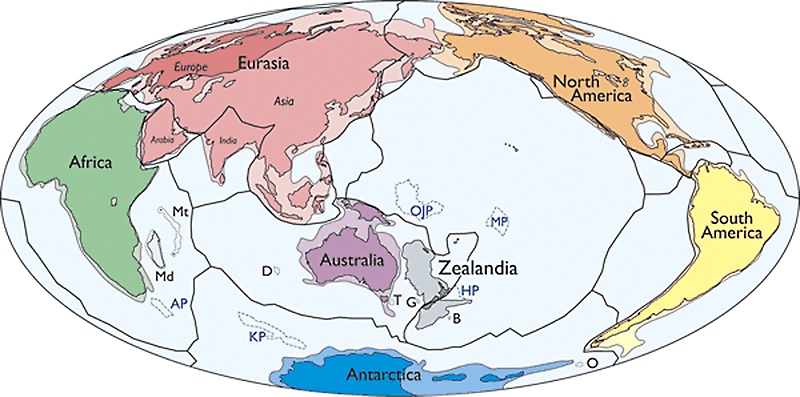PARA UMA HISTÓRIA DA PALEONTOLOGIA (1)
Os fósseis, entendidos como restos de seres vivos do passado ou vestígios da sua actividade conservados no seio de algumas rochas, são o objecto de estudo de uma disciplina científica a que foi dado o nome de Paleontologia [do grego palaios (antigo), ontos (ser) e logos (estudo)]. São, ainda, tema fulcral em:
- Paleobiologia, interessada na actividade dos antigos seres enquanto vivos;
- Paleoecologia, focada na reconstituição de ecossistemas antigos;
- Paleobiogeografia, que estuda a distribuição espacial de animais e plantas do
passado.
No sentido mais antigo do termo, fóssil (do latim fossile) era todo o material que se desenterrava ou extraía de dentro da terra, abrangendo, portanto, os minerais, as rochas, os achados pré-históricos e arqueológicos e os fósseis, no sentido que hoje damos à palavra. As expressões “carvão-fóssil” e “combustível-fóssi”l, ainda em uso, são reminiscências deste conceito antigo. Só no século XVIII o termo passou a ser usado no sentido que hoje tem em paleontologia, ou seja, no de um resto de ser vivo do passado ou num vestígio da sua actividade conservados no seio de uma rocha. Entendidos como as “letras” que nos permitem “ler” nas rochas, os fósseis têm-nos permitido conhecer uma parte importante da história da Terra e da vida. Designados no passado por “petrificados” (termo usado como substantivo), dão suporte ao estabelecimento das sequências sedimentares estratificadas no âmbito da biostratigrafia e constituem um pilar fundamental no estudo da evolução das espécies, iniciado por Charles Darwin no século XIX
.
O homem pré-histórico já conhecia os fósseis, embora não tenhamos elementos que nos permitam saber, com rigor, que significado lhes atribuía. Provavelmente terão alimentado superstições ou sido usados como objectos de adorno. São conhecidas sepulturas do Paleolítico, do Neolítico e da Idade do Bronze, onde os corpos se encontram rodeados por vários fósseis. Em Portugal, numa necrópole neolítica de Aljezur, foram encontrados dentes fósseis de seláceo do Miocénico.
Da Antiguidade ao século XVI
Na antiguidade pré-socrática, alguns filósofos da Escola Pitagórica interpretaram correctamente o significado dos fósseis encontrados no terreno, explicando o processo da sua formação segundo um modelo muito próximo do actualmente aceite. O filósofo grego Xenófanes de Colophon (circa 570-460 a. C.), na região da Lídia, na Ásia Menor (actual Turquia), reconheceu a verdadeira natureza de impressões vegetais fósseis e, um século mais tarde, o geógrafo e historiador, Heródoto (circa 485-420 a. C.), aceitava, como restos de animais marinhos, os fósseis encontrados no vale do Nilo.
Num retrocesso evidente, alguns seguidores de Aristóteles (384-322 a.C.) defendiam a intervenção de uma “virtude” que, através de uma semente, gerava e desenvolvia os fósseis na terra. Propuseram, ainda, a existência de um “suco lapidificante” (petrificante) ou de um “sopro oriundo do betume terrestre que, por acção dos raios solares, emergia da Terra e petrificava os organismos vivos”. Plínio, o Velho (23-79 d.C.) e outros autores latinos, sugeriam que estes achados caíam do céu ou da Lua.
Na Antiguidade oriental, o dragão, figuração sempre associada à civilização chinesa, estava intimamente ligado aos achados de ossos fósseis, que hoje sabemos serem de dinossáurios (ainda desconhecidos nesse tempo). Então aceites como vestígios petrificados de dragões, o seu uso em terapia era conhecido e está descrito em textos de medicina chinesa dos séculos XVI a XI antes de Cristo. Esta crença manteve-se e, no século III da nossa era, ainda se acreditava que tais restos correspondiam a restos ósseos das ditas figurações míticas. No livro Hua Yang Guo Zhi, atribuído a Chang Qu, tido como o primeiro registo escrito da ocorrência de fósseis de dinossáurios, editado durante a dinastia Jin Ocidental (265-317 d.C.), fala-se de “ossos de dragões” provenientes de Wucheng, na província de Sichuan, região hoje bem conhecida dos paleontólogos pela abundância de esqueletos destes vertebrados da era mesozóica.
.
Nos primeiros séculos do cristianismo, alguns dos seus teólogos com obra escrita, como Tertuliano de Cartago (circa 160-220) e Aurélio Agostinho, (345-430), mais conhecido por Santo Agostinho, eclesiástico romano e doutor da Igreja Católica, acreditavam que os fósseis eram restos de seres da Criação, mortos e enterrados durante o Dilúvio, tal como a Bíblia o descrevia, uma convicção também divulgada por João Crisóstomo (349-407), bispo de Constantinopla. O romano Eusébio Pamphili (265-339), bispo de Cesareia (Israel), usava, como evidências do Dilúvio e com idêntico raciocínio, os fósseis de peixes do Cretácico superior encontrados no alto do Monte Líbano, a cerca de 3000 metros de altitude.
A ocorrência de restos de animais marinhos, longe do mar, constituía, pois, uma clara demonstração de que esse acontecimento bíblico tinha invadido as terras, chegando a cobrir certas montanhas. Paulo Orósio (circa 383-420), natural da Hispânia e discípulo de Santo Agostinho, terá dado a mesma interpretação face aos fósseis de ostras existentes em serranias afastadas do mar.
No século X, o médico árabe Abu ibn Sinna (980-1037), mais conhecido por Avicena, na sua obra “De Congelatione et Conglutinatione Lapidum”, retoma a ideia da escola aristotélica e explica a formação dos fósseis através de uma “virtude plástica”, que seria capaz de dar às pedras formas semelhantes a animais e plantas, sem, contudo, ter capacidade para lhes dar vida. Para ele, os fósseis testemunhavam tentativas infrutíferas da natureza para criar seres vivos, limitando-se a imitar-lhes as formas.
Na Europa do Renascimento e na sequência do pensamento de Agostinho e de João Crisóstomo, ainda dominava a crença no Dilúvio e, assim, para alguns naturalistas, os achados de fósseis marinhos em terras emersas testemunhavam esta inundação universal. Entre os defensores desta ideia destacava-se, na Alemanha, o sacerdote católico agostiniano Martin Lutero (1483-1546), professor de teologia na Universidade de Wittenberg, de grande projecção na Europa e figura central da Reforma Protestante. Para outros, ainda desconhecedores da evolução biológica, tais achados, que designavam por lapides sui generis (pedras únicas no seu género), tinham origem no seio das rochas e eram interpretados como “caprichos da natureza”, por efeito de causas que não sabiam explicar, e não como restos de animais ou plantas. Foi neste contexto que Leonardo da Vinci (1452-1519), italiano de nascimento e uma das figuras mais importantes e conhecidas deste período, retomando as ideias pitagóricas, ignorou os textos sagrados, considerando os fósseis como restos de seres vivos anteriormente depositados no fundo do mar, fundo esse posteriormente soerguido. Da Vinci defendeu o interesse dos fósseis no conhecimento da história da Terra e descreveu, em pormenor, a fossilização. Tudo isto num tempo em que se queimava quem ousasse questionar a ordem da Criação e que pretendesse ver nos fósseis vestígios de criaturas anteriores à Divina Génese.
Décadas mais tarde, o médico e alquimista alemão Georg Bauer (1494-1555), mais conhecido por Agricola, defendia que os fósseis resultavam de seres vivos e, recuando ao pensamento aristotélico, explicava que haviam petrificado por acção do então referido “suco lapidificante”.
Na mesma época, o francês Bernard Palissy (circa 1510-1589)E, vendo que não tinham representação no presente, concluiu que os respectivos indivíduos haviam desaparecido, inovando, assim, o conceito de extinção das espécies. Ao observar os Cornus Ammonis (cornos de Ammon), nome que então se dava às amonites, verificou que estes fósseis eram aparentados com os actuais náutilos.
Esta designação, vinda da Antiguidade, fora inspirada na forma dos chifres enrolados do carneiro, visto como símbolo sagrado associado ao deus Ammon-Ra
Precursor da paleontologia, Palissy ficou, porém, mais conhecido como ceramista e artesão, por ter procurado imitar a porcelana chinesa, e pelos seus conhecimentos, avançados para a época, sobre nascentes e aquíferos e sobre hidráulica, nomeadamente, no que respeita o abastecimento de água às cidades.
Entretanto, na Suíça, o naturalista Konrad Gesner (1516-1565) coleccionou fósseis e, na obra escrita que nos deixou, "De Rerum Fossilium”, descreveu e figurou estes achados, apesar de não se ter manifestado de forma clara acerca da sua natureza.
Ilustração de Conrad Gesner (1565) de pedras de trovão ou Belemnites.